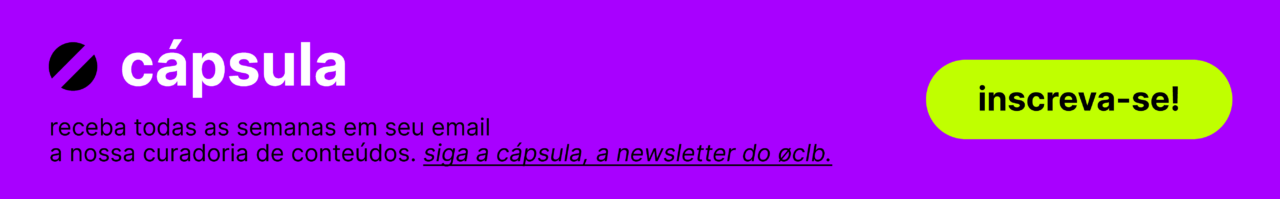Em 2014, o site Wondering Sound publicou um artigo intitulado “Porque a Bolha dos Festivais de Verão de Música Está Prestes a Estourar”. De acordo com um levantamento feito por Ali Hendrick, booker de artistas com mais de 20 anos de carreira em uma das mais renomadas agências do setor dos EUA (a Billions), aproximadamente 847 festivais aconteceram nos EUA naquele ano.
Os dados eram alarmantes: nunca houve tantos eventos deste tipo no país, o que sinalizava não só um ponto de saturação, como também os primeiros indícios de uma nova “corrida do ouro” de escala mundial.
“Todos estão disputando os mesmos talentos”, afirmou Gary Bongiovanni, responsável pelo Calendário Pollstar, que contabiliza anualmente os maiores festivais do mundo (em 2016, o calendário reuniu cerca de 1900 realizados em 74 países). E completa: “Este é o problema. Todos estão buscando pelo mesmo pool de artistas, não apenas nos EUA, mas globalmente. Se eles estão tocando no leste europeu, então não estarão disponíveis nos EUA”.
Como já deve ter visto por aqui, no Reino Unido a situação não é diferente (leia agora: A Bolha dos Festivais Ingleses: 1 Em Cada 10 Vai Quebrar Até 2017). Cerca de 1000 festivais – incluindo os de cerveja, teatro, filmes etc – devem acontecer lá neste ano. Um número 6 vezes maior que 12 anos atrás.
Se por um lado nunca houve tantos novos festivais de música para conhecer, por outro a grande mídia continua falando apenas dos mesmos: os maiores e mais comerciais. O que os veículos de grande circulação mostram são os Coachellas, Lollapaloozas e Burning Men da vida, festivais que estão aí há 20, 30 anos e que só nos últimos anos foram redescobertos.
O artigo “Por que os Grandes Festivais de Música Estão Ficando Todos Iguais”, publicado pelo portal UOL há alguns dias, é um destes exemplos. Nele, o jornalista e crítico musical André Barcinski culpa a “dominação corporativa” pela massificação destes eventos:
“A resposta está na dominação corporativa dos grandes festivais. Hoje, três ou quatro empresas controlam alguns dos maiores eventos musicais do mundo. Além do Lollapalooza, a Live Nation é dona do Bonnaroo, do Austin City Limits e do festival de música eletrônica Electric Daisiy Carnival. A AEG Live é dona do Coachella, do Stagecoach e do Desert Trip, festival que acontecerá em outubro com Stones, Dylan, Roger Waters, The Who, Paul McCartney e Neil Young. A SFX é dona de dois imensos festivais de música eletrônica, Tomorrowland e Electric Zoo, e comprou 50% do Rock in Rio.”
Simples assim? Tenho minhas dúvidas. Afinal, como diriam os estatísticos, “uma correlação não necessariamente implica em causa e efeito”.
Dominação Corporativa ou Regras do Jogo?
Sim, existem “forças corporativas” atuando em um novo mercado global. Mas, não, isso não significa que estes grandes grupos sejam os responsáveis pela homogeinização destes festivais.
Todos esses grandes festival apresentam lineups extensos, com palcos variados onde se apresentam dezenas de artistas, muitos deles os desconhecidos-de-hoje-headliners-de-amanhã, uma das razões pelas quais a industria fonográfica cada vez mais trata estes grandes eventos como importantes vitrines para o lançamento de artistas e álbuns.
O Coachella 2013 foi o lugar que a dupla francesa Daft Punk escolheu para lançar o video teaser do single que os garantiu um ano mais tarde o título de grandes vencedores do Grammy.
Além disso, a medida que a competição por grandes nomes aumenta e se torna global, poucos festivais tem fôlego para se manter no jogo. Normalmente, justamente aqueles que fazem parte de grandes grupos. E mesmo os que pensam fora da caixa precisam de um bocado de sorte: nem sempre um artista tem disponibilidade de data, interesse de se apresentar ou estão em turnê promovendo um álbum.
É fato: os grandes festivais dependem de big names, do tipo arrasta-multidões, para fechar as contas.
E headliners deste tipo são cada vez mais raros. Ironias à parte, só mesmo uma produtora do porte da AEG para produzir um dos mais caros – e comentados pela grande mídia – novos festivais do momento: o Desert Trip, cuja proposta é exatamente reunir em seu lineup lendas vivas da velha guarda do showbiz (leia aqui: Festival Tem Idade – Conheça o “Oldchella”, o Novo Velho Coachella).
De volta ao artigo do UOL, o jornalista afirmou:
“A dominação corporativa nos maiores festivais de música, embora crescente, não é absoluta. Há exemplos de eventos grandes e que ainda são geridos de forma independente, como o Roskilde (Dinamarca) e Primavera (Barcelona), festivais que geram milhões de euros, doam os lucros para causas sociais e têm grande impacto no turismo de suas respectivas regiões.”
Estive no Primavera Sound deste ano, talvez o maior de sua história, com uma bilheteria esgotada pouco tempo depois de seus ingressos serem disponibilizados para venda. Embora não faça parte das “grandes corporações”, a produção só é sustentável graças aos seus patrocinadores (e apoio irrestrito da capital catalã), entre eles a Heineken e H&M, que assinavam os main stages do festival, além das marcas Bowers & Wilkins, Adidas, Ray-Ban, Firestone e Pitchfork, todos nomeando os palcos alternativos do evento. Qualquer semelhança com o que rola por aqui, no Lollapalooza São Paulo, não é mera coincidência.

Apesar de reunir em seu lineup algumas das principais tendências da música indie internacional, foram os headliners mais comerciais do Primavera – os mesmos dos “grandes-festivais-corporativos-norte-americanos” – que venderam tantos ingressos (leia aqui: Primavera Sound 2016 – Um Festival Para Se Surpreender). Radiohead foi um das grandes nomes do Lollapalooza Chicago. LCD Soundystem também tocou no Lollapalooza e no Coachella. E os dois também foram headliners no Roskilde, que ainda contou com o Red Hot Chilli Peppers, presente também no line de 25 anos do Lollapalooza.
Afinal, qual o problema então dos grandes festivais americanos? Se os headliners são praticamente os mesmo, não estariam também os grandes festivais independentes fazendo parte da mesma mesmice que infecta os festivais “dominados pelo corporativismo”?
Todo grande festival, mesmo o dinamarquês Roskilde, exemplo de festival independente, altamente politizado e organizado sem fins lucrativos desde 1972, acaba tendo que seguir certas fórmulas e regras para atrair grandes massas. Mas isso não significa que estão ficando todos iguais. Longe disto.
A pergunta de um milhão de dólares, então, é outra: será mesmo que todos os grandes festivais estão ficando iguais? Ou o que faltam são novos pontos de vista, pautas criativas e boa vontade para investiga-los?
Uma posição interessante foi a adotada pelos críticos do New York Times, que no início deste ano escreveram um artigo explicando porque não iriam cobrir o Coachella e Bonnaroo.
Em tom nostálgico, os jornalistas contam dos tempos de 10 anos atrás, quando começaram a cobrir o Coachella, Lollapalooza e outros grandes festivais.
A impressão que fico é de uma cambada de caras que viveu intensamente os anos 90, mas estão agora cansados, preferindo acompanhar festivais via streaming, em casa, tecendo críticas de sofá. Também vivi intensamente os anos 90 (felizmente, também 00s e 10s). Mas, apesar de também achar o streaming uma das novas sete maravilhas do universo, continuo com um pé na pista e outro tentando seguir o espírito do tempo.
Para cada Coachella, existe um Panorama e Afropunk. Para cada Lollapalooza, um monte de Outside Land ou Pitchfork. Cada Burning Man, um Lighting in a Bottle, Further Future ou AfrikaBurn.
O problema não é a homegeinização dos grandes festivais. É a falta de uma nova perspectiva ou interesse do que falar sobre eles.
Os festivais foram ressignificados para uma nova era da experiência. A EDM – goste ou não – é a trilha sonora desta geração. Existe muito mais a ser apresentado sobre estes festivais que seus headliners. Existem festivais extremamente políticos, outros que apresentam novas formas de monetização, tecnologia e vida em sociedade, alguns espirituais e transformativos… E outros que são incríveis mesmo por reunirem tantas celebridades, marcas e volumes de investimento. Resumir este tipo de cobertura a uma crítica musical é olhar um único aspecto destes festivais, em sua grande maioria o mais importante, mas ainda assim limitado.
Para não dizer que não existe uma luz no fim do túnel, Jon Pareles, um dos críticos do New York Times, encerrou seu artigo falando sobre o SXSW (leia aqui nosso review sobre este festival):
“Agora mesmo estou no SXSW music festival, uma avalanche com mais de 2000 apresentações em cinco dias – um número estupidamente maior que qualquer um possa ter a pretensão de cobrir em sua extensão. É mistura tão grande que chega a ser sufocante. Mas é também um evento singular, centrado em um local (Austin), com uma química própria e particular – conjunto este que estaremos olhando para decidirmos quais festivais, populares ou obscuros – vamos cobrir nos próximos anos”.
Se os críticos musicais do New York Times redescobriram agora o SXSW, um festival que existe há mais de 20 anos em seu próprio país, quem sabe daqui a pouco também não se dêem conta da pluraridade deste e de outros mais novos, espaços hoje de intensas relações sociais, onde se vai para se escutar ou descobrir novos músicos, mas também um complexo e extenso campo de símbolos, significados, comportamentos e movimentos.